Crise econômica e seleção natural

Nova Granada, no interior de São Paulo, é uma cidade interessante. Conheço cerca de uma dúzia de granadenses, nenhum deles pessoas “normais”. Fábio Gandour é um desses “pontos fora da curva”: para se ter uma idéia do quão incomum é o sujeito, o Fábio é, ao mesmo tempo, médico (pediatra, se não me engano) e cientista-chefe da IBM(!!!). Conheci o Fábio no lançamento do meu livro “Prática na teoria”, e infelizmente nunca mais falei com ele.
Ao ler a última edição da revista Galileu, deparei com um artigo do Fábio, sobre crise econômica e seleção natural. Googlei “fabio gandour” de todo jeito, e não consegui encontrar nem o e-mail do Fábio, nem uma versão eletrônica do artigo (no site da revista, não está disponível). Por isso, escaneei o texto (vide abaixo) para poder comentá-lo, e fica aqui o convite para o Fábio responder aos meus comentários, se ele chegar a trombar com esse post. (Se algum conhecido do Fábio estiver lendo, peço a gentileza de encaminhar o link do post para ele).
A solução para a crise econômica? Seleção natural
No ano em que comemoramos os 200 anos do nascimento de Charles Daarwin e 150 da publicação do livro A Origem das Espécies, talvez também seja a hora de discutirmos uma questão bastante incômoda a ponto de ser constantemente evitada. Se em sua obra-prima Darwin construiu a teoria da evolução dos seres vivos, por que não analisar os obstáculos causados pelo progresso da ciência ao pleno exercício da seleção natural?
Antes de embarcarmos nessa direção, é recomendável que o leitor se desfaça, temporariamente, de qualquer influência de princípios éticos, morais e, principalmente, religiosos, para poder se concentrar apenas em aspectos técnicos e científicos. Sob o ponto de vista essencialmente científico, o homem, quando se empenha em tratar doenças e evitar a morte, impede a ação da seleção natural. Sim, visto pelo ângulo técnico da dinâmica populacional, o progresso da medicina atrapalha a seleção natural.
Ao impedir ou mesmo adiar a morte de indivíduos que apresentam alguma inaptidão para sobreviver e que morreriam naturalmente, evitamos ou prorrogamos a ação da seleção natural. O prolongamento da vida de um ser vivo frágil também aumenta suas chances de se reproduzir e transmitir essa fragilidade a seus descendentes.
A seleção natural sepultaria essa fragilidade e, por isso, tem o notório efeito de melhorar a competitividade, eliminando falhas e abrindo espaço para a sobrevivência dos indivíduos mais resistentes e bem adaptados.
Ao tolher a sua ação, evitamos que aquela população evolua para um novo patamar, mais competitivo. Essa verdade, um tanto inconveniente, vale tanto para a medicina quanto para qualquer outra ciência destinada a prolongar a vida de um ser vivo que se encontre enfermo por uma determinada razão. Trata-se de uma verdade cruel, mas incontestável.
E já que viemos até aqui, podemos ir mais longe na mesma direção. No caso do homem, a atitude de proteger a vida e impedir a seleção natural dos inaptos ao ecossistema do momento já se transformou em um valor social incorporado ao comportamento das populações. Um valor às vezes questionável, mas que, mesmo assim, se manifesta com frequência.
Um exemplo disso pode ser visto na atual crise econômica. O cenário globalizado em que ela acontece pode, com alguma poesia, ser chamado de ecossistema financeiro mundial. De repente, alguns “indivíduos” dessa população começaram a apresentar sintomas de grave enfermidade, que logo se alastrou por quase todo o ecossistema. Se deixássemos a seleção natural atuar, esses bancos adoecidos por dívidas impagáveis, créditos de origem duvidosa, pagamentos de bônus de mérito discutível e outras fragilidades estruturais, deveriam ser naturalmente selecionados para morrer.
Assim, levariam para o túmulo seus atributos genéticos representados por uma administração ineficiente e que bordeja a ilegalidade. Seria a seleção natural atuando com liberdade, eliminando uma espécie frágil e deficiente para abrir espaço no ecossistema para o surgimento de outra espécie mais bem adaptada e, portanto, mais forte.
Mas não é isso que vem acontecendo – e que seria extremamente saudável nesses casos. Como já incorporamos um valor social que combate a seleção natural, internamos os bancos enfermos em UTls de hospitais com nomes incomuns, como Federal Reserve Bank, sistematicamente mantidos por governos. Nessas UTIs, bilhões de dólares são injetados nas veias dos “pacientes”, e eles não morrerão. Ao sobreviver, terão novas chances para reproduzir e transmitir a seus descendentes todas as falhas atuais de seus organismos. Mais uma vez, a seleção natural não ocorreu. Na verdade, o ecossistema involuiu.
Charles Darwin nunca foi banqueiro – nem bancário -, mas até no ecossistema financeiro globalizado sua teoria da evolução teria sido útil se acontecesse com liberdade e naturalidade.
Comento:
Tudo o que comentar a seguir não terá, como recomenda o autor, qualquer viés moral (aliás, é a mesma recomendação que faço no meu livro). O problema é que, focando no aspecto exclusivamente material, deixar a seleção natural agir livremente não leva, necessariamente, aos melhores resultados. “Evolução”, no sentido darwinista, nada tem a ver com “melhoria” ou “progresso”, mas sim com “sobrevivência diferencial de populações”. Vejamos, como exemplo, o que está ocorrendo em relação à resistência à malária – uma das poucas frentes de evolução humana atualmente em curso.
Em determinadas regiões do planeta, existem populações portadoras de uma mutação que produz hemácias ligeiramente deformadas, o que gera uma doença hereditária chamada anemia falciforme. Essa doença gera diversos problemas mais ou menos similares à anemia comum: hemorragias, descolamento de retina, acidente vascular cerebral, enfarte, calcificações em ossos, e insuficiência renal e pulmonar. Mas, por outro lado, imuniza a pessoa contra a malária (ou atenua as crises). Em regiões muito afetadas pela malária, a seleção natural favorece a sobrevivência de populações portadoras da mutação porque a malária mata mais que as conseqüências da anemia falciforme. Essas populações, mais evoluídas no sentido darwinista, serão, de fato, melhores que as populações sem anemia falciforme? De jeito nenhum, tanto é que em regiões em que a malária está sob controle, a anemia falciforme acaba selecionada para desaparecer.
Por isso, é sempre muito temerário fazer qualquer afirmação como a da primeira parte do artigo, de que a seleção natural “tem o notório efeito de melhorar a competitividade, eliminando falhas e abrindo espaço para a sobrevivência dos indivíduos mais resistentes e bem adaptados”. Mas este não é o problema mais grave do artigo. Quando o autor sugere que se deixe as empresas afetadas pelos erros que levaram à crise econômica mundial à sorte da “seleção natural”, está cometendo um erro já testado em várias crises anteriores, em especial a crise de 1929. Trata-se da aplicação do liberalismo clássico, que Keynes mostrou não resolver em situações de grave crise.
Internar empresas como o Citibank e a GM em UTIs financeiras, por outro lado, não significa “involução” – pelo contrário: o Citi e a GM do futuro deverão ser empresas muito melhoradas. Empresas não são organismos, embora se pareçam com eles em alguns aspectos. O Citibank de 2012 não deverá carregar os “genes ruins” que o levaram à insolvência em 2008/09 justamente porque passou por uma situação que quase o matou. Empresas, ao contrário de organismos, podem alterar seus genes.
Risco EUA?
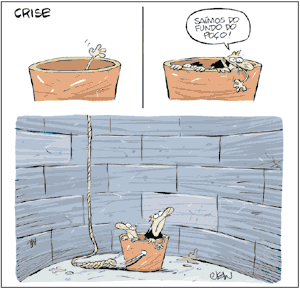
De acordo com o artigo abaixo, do David Walker (ex controlador-geral das finanças públicas dos EUA) publicado no Financial Times, os títulos do governo estunidense estão em cheque – durante um período, os títulos do McDonald’s teriam sido avaliados como de menor risco que os do Tesouro dos EUA (!!!). Como será o mundo financeiro se os T-Bonds deixarem de ser AAA? Aí sim veremos uma crise complicada.
Classificação dos EUA sob risco
Os gastos com saúde e os desequilíbrios fiscais ameaçam a classificação AAA dada por agências aos EUA
MUITO ANTES da crise, quase dois anos atrás, uma nuvem negra não muito perceptível surgiu no horizonte do governo dos EUA. Foi ignorada. Mas agora aquela sombra, na forma de alerta vindo de uma das grandes agências de classificação de crédito no sentido de que o país corre risco de perder sua classificação AAA caso não comece a colocar as finanças em ordem, voltou para nos assombrar.
O alerta da Moody’s tinha por foco a disparada dos custos da Previdência e da saúde, que ameaçam afundar o governo em dívidas pelas próximas décadas. Os fatos mostram que estamos em forma ainda pior agora, e há sinais de que a confiança na capacidade dos EUA de controlar suas finanças está se abalando.
Os preços dos seguros contra inadimplência para títulos do Tesouro norte-americano subiram, o que significa que os investidores agora arcam com custo maior para proteger seus investimentos em papéis do Tesouro. Aliás, por um breve período, tornou-se mais caro comprar proteção para investimentos em títulos do Tesouro do que em papéis da McDonald’s. Outro sinal de alerta surgiu na China, onde o primeiro-ministro e o presidente do BC expressaram preocupação quanto à situação de crédito em longo prazo dos EUA e o valor do dólar.
A despeito da desaceleração econômica, os EUA dispõem dos recursos, do conhecimento e da resistência necessários a restaurar sua economia e cumprir seus compromissos. Além disso, muitos dos trilhões de dólares recentemente canalizados para o sistema financeiro com sorte resultarão em uma recuperação, o que estimulará a economia.
O governo dos EUA conta com a classificação AAA de crédito para seus títulos desde 1917, mas não se sabe por quanto tempo essa situação vai persistir. Na minha opinião, basta que aconteça uma ou duas coisas para que venhamos a perder nossa classificação de crédito impecável.
Primeiro, embora uma reforma abrangente da saúde seja necessária, ela não deve debilitar ainda mais as condições financeiras do país. Fazê-lo sinalizaria que a prudência fiscal está sendo ignorada, como resultado do esforço de atender às necessidades sociais, o que colocaria o futuro do país sob ameaça ainda maior.
Segundo, se o governo não conseguir desenvolver um processo que permita que escolhas duras quanto a gastos, impostos e controle de Orçamentos sejam tomadas quando superarmos a crise econômica, isso sinalizaria que o nossos sistema político não está à altura da tarefa de enfrentar os grandes desequilíbrios que teremos de encarar, tanto conhecidos quanto desconhecidos.
Como se poderia justificar uma nota AAA para uma entidade com passivo líquido acumulado de mais de US$ 11 trilhões e obrigações adicionais não contabilizadas de US$ 45 trilhões? Uma entidade que deve registrar déficits anuais de ao menos US$ 1 trilhão por ainda muitos anos?
A nação precisa promover uma reforma abrangente na saúde. Mas é importante que não voltemos a nos sabotar. Uma reforma deveria reduzir as imensas promessas de saúde que já temos, bem como os imensos e crescentes déficits estruturais que ameaçam o nosso futuro.
Uma forma de escapar a esses problemas é que o presidente e o Congresso criem uma “comissão do futuro fiscal”, em que tudo isso esteja em debate, incluindo controles de Orçamento, reformas em programas de benefícios e alta de impostos.
Temos de agir antes que venhamos a enfrentar crise econômica muito maior. Não devemos esperar pelo rebaixamento de nossa classificação de crédito. Para Washington, o momento de despertar é agora.
A prova do crime

Que o mercado financeiro dos EUA quebrou, todo mundo sabe; e que houve um descaso absurdo com a fiscalização, também. Mas nada como ver as provas concretas do crime. No blog do Crédito, o leitor Camilo Telles colocou o link para a denúncia feita contra o fundo do Madoff à SEC (a CVM deles) em 2005. É impressionante. A denúncia se chama “O maior fundo do mundo é uma fraude”, de Harry Markopolos, um analista financeiro de Wall Street altamente qualificado, que aplicou a Mosaic Theory para levantar 29 red flags que apontavam para o fato de que o fundo do Madoff era uma pirâmide (esquema Ponzi).
O que a SEC fez com o relatório do Markopolos? Engavetou. Até que o fundo explodiu no final de 2008, deixando um rombo de mais de US$50bilhões para trás.
O Brasil não tem subprimes

Fazia tempo que não criticava um artigo do Clóvis Rossi aqui no blog, estava tentando parar com esse vício, mas hoje o czar opinativo da Folha incorporou o Chacrinha (aquele que veio para confundir, não para explicar), e não deu para ficar quieto – aliás, sempre baixa o santo do Velho Guerreiro no CR quando ele tenta explicar a crise econômica. Segue o artigo e, em seguida, meus comentários:
Também temos subprimes
SÃO PAULO – Demorou mas surgiram os nossos “subprimes”, vítimas da incapacidade de pagarem seus automóveis.
É a diferença de escala entre a economia norte-americana e a brasileira: lá, o pessoal perde casas, um bem de muito maior valor.
Cessa aí, no entanto, a comparação. Os automóveis recuperados pelos bancos não têm, por trás, um rolo de ativos ditos tóxicos como os que caracterizaram a crise norte-americana das hipotecas “subprime” nem um volume tão formidável (pelo menos até agora).
Mas nem por isso o problema do crédito ou, mais exatamente, da falta dele e/ou de seu encarecimento deixa de ser sério, a julgar pelo que escreve Roberto Luis Troster para o mais recente boletim da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas da USP: “Uma deterioração do crédito era esperada por conta da piora do quadro econômico, mas não na proporção que está acontecendo, especialmente para os microempresários e para as pessoas físicas de renda média e baixa. A cada mês que passa, as taxas dos financiamentos aumentam, sua composição deteriora-se e a inadimplência sobe.”
O economista dá números que ajudam a entender a inadimplência e a consequente retomada dos automóveis: são os pequenos tomadores os mais afetados, conforme relatório do Banco Central que mostra que aumentou 5,1% o volume de operações acima de R$ 10 milhões, mas diminuiu 2,7% no caso das inferiores a R$ 5.000.
Ou, pondo no estilo Elio Gaspari: o andar de cima ainda se financia, mas o andar de baixo é cada vez mais “subprime”.
PS – Cometi ontem um erro brutal. Escrevi: “[Os mercados] insistem em socializar o risco e privatizar o prejuízo”. É óbvio que deveria ter escrito “…privatizar o lucro”, como o fiz já várias vezes. Perdão.
Comento:
Em primeiro lugar: nós não temos subprimes. Dizer isso é alarmismo inconsequente, os carros financiados não tem nada a ver com os subprimes hipotecários estadunidenses. Lá, o cara comprava uma casa financiada por US$100mil, não pagava, a casa era reavaliada para US$150mil, o “ganho imobiliário” quitava as prestações atrasadas, o refinanciamento não era pago de novo, a casa era re-reavaliada para US$300mil, o cara não pagava mais uma vez, e a coisa ia assim, indefinidamente. No fim da história, havia imóveis milionários com financiamentos idem, ambos fictícios. Essa foi a “crise dos subprimes”, o primeiro estágio da crise econômica global em curso (depois, vieram as crises das commodities, dos derivativos, dos bancos, do consumo, e a crise de confiança, o lamaçal em que os EUA estão nesse momento). No Brasil, o que está ocorrendo é que tem muita gente que não consegue pagar a prestação do carro e acaba tendo que entregar o veículo para a financeira/banco/leasing. Esse carro não foi superavaliado, muito embora seu valor tenha sido reduzido por uma questão de mercado. A maior parte da dívida correspondente ao financiamento de veículos no Brasil está nos FIDCs (fundos de investimento em direito de crédito), que não podem realizar operações de derivativos, que turbinaram as perdas nos EUA. Resumindo: o título e o primeiro parágrafo do artigo do CR são sensasionalistas e profundamente errados.
Mas aí vem o mestre da ambiguidade e escreve um segundo parágrafo desdizendo o que inicialmente disse, um truque comum deste colunista. Fala que não temos “ativos tóxicos” e que os volumes brasileiros são bem menores que os estadunidenses… Então por que a manchete sensacionalista, señor Rossi??? Mas a artimanha é muito mais elaborada, pois ele continua o artigo desdizendo o que desdisse, e retornando ao terrorismo econômico (e saidno completamente do assunto original, os subprimes brasileiros), como veremos.
A citação e os números estão certos, só que faltou explicá-los de maneira adequada. O aumento do crédito para as grandes corporações decorre da escassez de linhas externas, não um aumento da demanda real desse segmento. Ora, se um banco direciona bilhões adicionais para empréstimos ao segmento corporativo, ele vai ficar com menos disponibilidade para emprestar para os outros segmentos, essa é a causa primeira da redução do crédito para os pequenos empresários e as pessoas físicas. Ora, e se a oferta de crédito para os pequenos diminui, quem “está na bicicleta” (refinanciando dívidas antigas e empurrando o débito com a barriga) acaba explodindo, daí o aumento na inadimplência. É um problema grave, mas nada a ver com os supostos subprimes brasileiros, de que o artigo supostamente trata. O Brasil não é imune à crise e temos nossos problemas, mas que fique bem claro: nós não temos subprimes!!!
Pitacos sobre a crise
E agora, José?
A festa acabou,
a luz apagou,
o povo sumiu,
a noite esfriou,
e agora, José ?
e agora, você ?
você que é sem nome,
que zomba dos outros,
você que faz versos,
que ama protesta,
e agora, José ?
(C. D. de A., “José”)
Os mercados financeiros faliram, a recessão bate à porta, o crédito está suspenso até segunda ordem, e as commodities não valem mais nada – ou seja: o caos está instalado na economia mundial. Fala-se em um novo Bretton Woods para desmontar a estrutura criada em 1944 (que, na prática, não existe mais: até o Lula sabe que o FMI não serve para nada hoje em dia), mas ninguém tem a mínima idéia sobre o que colocar no lugar. Uma mega-agência regulatória global? Um FMIzão turbinado para socorrer todo mundo, inclusive os EUA? Ah, que falta faz um Keynes nessas horas… Jornalistas vestidos com a surrada camiseta do Che Guevara, como o Jânio de Freitas, da Folha, sugerem o “fechamento dos cassinos” (bolsas de valores) como medida número um (se você não acredita, leia o artigo do referido na Folha de hoje [disponível aqui, para assinantes] – que, a propósito, está muito bom na sua segunda parte, em que faz uma análise da disputa política na aldeia). Economistas “sérios” como o Roubini (vide foto abaixo), incensado como o único cérebro pensante da atualidade, dizem que a crise durará entre 18 e 24 meses (onde será que ele viu isso? nos búzios, no tarô cigano, ou jogou I-Ching?). Então, já que qualquer um pode falar o que quer, o corpo editorial deste afamado blog também dá os seus pitacos:
Como todo mundo sabe, o epicentro da crise é no 1o. mundo: EUA, a maior parte da Europa Ocidental, e Japão: o Grupo-I. Em seguida, vem os BRIC (Brasil+Rússia+Índia+China), os países desenvolvidos de 2a linha (Canadá, Austrália, Espanha, Portugal etc.), os emergentes/emergidos (Chile, México, Coréia do Sul, África do Sul, Polônia, Grécia, Turquia etc.), e a moçada da OPEP, que compõem o que chamaremos de Grupo-II. E, lá no fim, quase não sentindo a crise, estão os países-satélite da economia mundial, como Bolívia, Paraguai, toda a América Central, a maior parte da África, as ex-repúblicas soviéticas (ex. Ossétia do Norte/Sul), a Coréia do Norte, o Afeganistão, o Irã, o Iraque, e as “notas de rodapé do mapa-múndi” (Ilhas maurício, Fiji e demais excentricidades), que são o Grupo-III. Como o que interessa mesmo é o equilíbrio relativo entre as economias, e os países do Grupo-I perderão mais que os do Grupo-II, que perderão mais que os do Grupo-III, quem vai se dar melhor com essa crise será, em ordem inversa, os países do Grupo-III e do Grupo-II. O fato é que os países do Grupo-III não têm condições de aproveitar a vantagem relativa, seja por questões políticas (com ou sem crise, Cuba não vai se tornar uma potência econômica tão cedo), seja por absoluta incapacidade econômica estrutural (como é que o Paraguai pode aproveitar a situação? exportando mais chá?). Logo, quem vai se beneficiar com essa crise no longo prazo serão os países do Grupo-II, exatamente onde estamos. “É nóis na fita, mano?” Talvez. O risco é tomarmos um trança-pé dos chineses ou do Putin (e que não é difícil para quem toma olé do Evo Morales).
Na foto acima, Nouriel Roubini explicando os fundamentos da MacroEconomia a duas jovens
Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής
Logo após a independência estadunidense, houve um impasse na escolha da a língua oficial a ser adotada, com o grego sendo uma das opções mais bem cotadas, pois havia uma grande simpatia dos intelectuais da época pela cultura helênica – mesmo que todos eles se comunicassem em inglês mesmo. Acabou que não escolheram nenhuma (até hoje, os EUA não têm língua oficial, você acredita?), pois não se admitiu oficializar a língua do inimigo (a Guerra de Independência ainda era uma ferida aberta na sociedade da época), e a língua de Homero não seria exatamente prática, já que menos de 0,1% da população a conhecia. Isso tudo para perguntar:
Se entender a crise atual já está difícil, imagine se você tivesse que fazer isso lendo textos em grego?
Queimem, hereges!!!
Deu no Financial Times (aqui, a tradução publicada no UOL Mídia Global:
Oriente Médio está em júbilo com os infortúnios de Wall Street
Lionel Barber e Roula Khalaf
Em DamascoO “crash” em Wall Street provocou uma alegria indisfarçável entre os inimigos dos Estados Unidos no Oriente Médio, que alegam que a crise financeira global é outro sinal de que os Estados Unidos perderam seu status de superpotência.
De Damasco a Teerã, uma coalizão livre de autoridades públicas e clérigos vê o colapso financeiro como sendo resultado de um castigo divino e da cara política externa do governo Bush na região, principalmente a invasão ao Iraque.
O aiatolá Ahmad Jannati, um influente linha-dura no Irã, descreveu a crise como uma punição.
“Assim como os americanos ficam contentes em ver problemas no Irã, nos estamos felizes em ver a economia americana abalada e os problemas se estendendo à Europa”, ele disse recentemente. “Eles estão vendo os resultados de seus atos odiosos e Deus os está punindo.”
Um alto funcionário sírio disse que os problemas mostram que “os Estados Unidos não são mais uma superpotência. O país é apenas um grande poder.”
Os linhas-duras estão sob a impressão de que a crise não afetará diretamente suas economias, e presumem que o aparente fracasso das políticas liberais confirma a visão deles de que o Estado deve continuar exercendo um papel central.
“Este é um novo capítulo”, disse um alto funcionário sírio que destacou a necessidade de controle do banco central pelo Estado e apoio aos produtores rurais, assim como um salário mínimo para os trabalhadores. “Isto provará que nossa visão das reformas é correta. Nós temos uma economia de mercado social.”
Mas a afirmação do poder do Estado na Síria está minando aqueles que, apesar de não apoiarem os Estados Unidos, estão pressionando por uma transformação de uma economia centralizada para um sistema mais liberal.
Abdullah Dardari, o vice-primeiro-ministro responsável pela economia, disse que o trabalho da equipe econômica no governo se tornará mais difícil.
Falando ao “Financial Times” após ter recebido uma recepção hostil no figurativo Parlamento sírio, ele reconheceu: “Está ainda mais fácil dizer ‘veja aquelas políticas neoliberais e o que fizeram, e para os grupos neoliberais na Síria e o que desejam fazer'”.
Mesmo antes da crise financeira, uma visão popular na região era a de que os Estados Unidos estavam em um declínio terminal. Ela cresceu após a desastrada ocupação do Iraque, o fracasso em conter as ambições nucleares do Irã e em proteger os aliados pró-Ocidente no Líbano diante do Hizbollah, o grupo militante xiita.
O crash em Wall Street levou à teoria questionável de que a turbulência global deriva do custo imenso de financiar a guerra no Iraque, em vez de um fracasso regulatório coletivo em lidar com o excesso de risco assumido pelo setor bancário.
Dardari disse: “Eu não sei qual é a causa, mas o financiamento da guerra e o fardo da dívida pública (americana) tem um papel”.
No geral, a suposição na Síria e em outros países na região é de que o Oriente Médio está relativamente isolado de uma recessão puxada pelos Estados Unidos.
Mas a maioria dos mercados de ações no Oriente Médio sofreu enormemente nas últimas semanas, com a exceção do Irã, onde o mercado, que atrai pouco investimento estrangeiro, apresenta alta de 20% neste ano.
Mesmo se os sistemas bancários em países isolados como o Irã e a Síria escaparem da turbulência financeira, suas economias sofrerão com uma recessão nos mercados mundiais.
Teerã já está cambaleando com a queda nos preços do petróleo. Na Síria, a economia poderia ser afetada pela queda nas remessas de dinheiro dos trabalhadores que atuam nos países do Golfo e com uma queda nos investimentos.

















1 comment