RL=C+ΔP
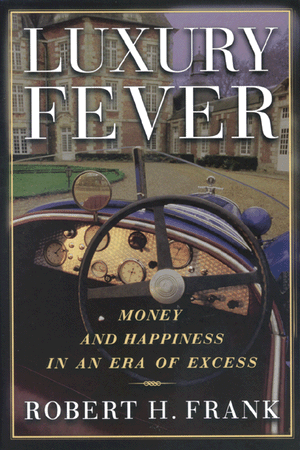
Nesse post sobre a pós-crise, começamos a falar sobre o problema do consumismo epidêmico (que chamo de boletite), sua relação com a gênese da crise atual, e como fazer para evitar que crises como a que o mundo passa atualmente ocorram novamente. Neste, veremos que tudo se reduz a uma equação bem simplezinha, mais ou menos como a famosa E=m.c² do Einstein, que explicava a relatividade com somente 3 variáveis:
RL=C+ΔP, onde:
*RL: renda líquida auferida em um determinado período;
*C: consumo neste mesmo período; e
*ΔP: aumento ou diminuição da poupança líquida no período (P1-P0)
Ou seja:
Tudo o que uma pessoa obtém de rendimentos em um determinado ano é equivalente ao que essa pessoa consumiu neste mesmo ano mais a variação verificada em seus investimentos (diferença entre os saldos em 01/01 e 31/12 daquele ano). Se eu ganhei $100mil em 2008 e aumentei minha poupança em R$20mil, concluo que meu consumo foi de R$80mil. Simples assim.
Quando o Malloch Brown (vide artigo do Clóvis Rossi no post sobre a pós-crise) fala sobre “uma nova visão de futuro de um mundo menos conduzido pelo consumismo”, isso significa que teremos de encontrar maneiras de diminuir a boletite, a tendência das pessoas a consumir exageradamente. Já se tentou isso antes várias vezes, e nunca se conseguiu muito sucesso, como no malfadado exemplo do comunismo soviético, e no cristianismo. No fim, as pessoas sempre encontram formas de burlar as regras para ostentar um padrão de consumo superior ao dos seus pares, isso é um comportamento esperado para indivíduos da espécie H.sapiens.
Entretanto, se mudarmos a tributação, da renda para o consumo, haverá um forte estímulo para que as pessoas destinem parcelas cada vez maiores de sua renda para a poupança, evitando uma epidemia consumista. Basta manipular a fórmula: se RL=C+ΔP, então C=RL–ΔP; assim, se a tributação incidir sobre a diferença entre entre a renda e o aumento da poupança, quanto mais se poupar menos imposto se pagará. Esta seria, então, a fórmula mágica do mundo pós-crise.
(Essa não é uma proposta minha, e também não se trata de nenhuma novidade. Ela aparece no capítulo final de “Luxury Fever – Money and happiness in an era of excess” – foto acima, um livro de 1999 do Robert H. Frank).
Desaversão a perdas?

A Folha de hoje publica uma reportagem enigmática sobre um estudo que propõe controlar a aversão às perdas, “dogma central” da Economia Comportamental:
Estudo sugere forma de controlar aversão à perda
Tendência de humano a ser mau perdedor é inata, mas pode ser mudada, diz grupo
Experimento conduzido por grupo da Universidade de Nova York reproduz reação de operadores da Bolsa para mudar percepção
RICARDO BONALUME NETO
DA REPORTAGEM LOCALO ser humano é um mau perdedor nato, que tende a dar mais peso a uma derrota do que a uma vitória. Mas uma pesquisa combinando psicologia com economia comportamental mostrou que é possível regular essa “aversão à perda”. O truque é tentar agir como se você fosse um operador da Bolsa ou um jogador profissional.
O conceito de “aversão à perda” foi proposto em 1979 pelos psicólogos Amos Tversky e Daniel Kahneman. Trata-se da preferência das pessoas a evitar perdas do que obter ganhos. O israelense Kahneman ganhou o Nobel de Economia de 2002 pelos seus trabalhos na área.
A aversão à perda é uma questão de percepção. Por exemplo, uma decisão poderá levar à perda de R$ 300,00. Há duas escolhas de investimento para diminuir o prejuízo. No primeiro caso, você perde R$ 150,00; no segundo, você não perde nada com 1/3 de probabilidade ou perde tudo com 2/3 de probabilidade. A maioria das pessoas escolhe a segunda opção, pois a certeza de perder R$ 150,00 é considerada pior do que a chance provável de perder todo o dinheiro.
“Nós podemos mudar a maneira como decidimos, e embora ainda possamos ser sensíveis a perdas, nós podemos nos tornar menos sensíveis”, concluíram os autores do novo estudo, liderado pela psicóloga Elizabeth A. Phelps, da Universidade de Nova York, e publicado na revista “PNAS”.
Phelps e colegas lembram que a emoção desempenha um papel no processo de tomada de decisões. Por exemplo, um estudo sobe consumo de bebidas mostrou que a apresentação subliminar de carinhas sorridentes alterou a avaliação das pessoas sobre as bebidas, mas também a quantidade que elas ingeriam e mesmo o total de dinheiro que elas estavam dispostas a pagar pelo drinque.
O grupo de Phelps usou voluntários num experimento no qual os participantes tinham que fazer escolhas monetárias entre uma aposta binária -com chance de ganho ou perda- e um valor garantido. Eles recebiam no começo US$ 30,00 e tinham que tomar decisões de investimento que poderiam ou fazê-los perder todo o dinheiro, ou chegar a ganhar até US$ 572,00. Em parte dos experimentos eles tiveram a condutividade elétrica da pele medida, indicando atividade do sistema nervoso como prova de excitação emotiva.
Os voluntários foram instruídos a usar duas estratégias. Eles deviam enfatizar cada escolha “como se fosse a única”; e depois foram instruídos a usar uma estratégia de regulação, enfatizando as escolhas como parte de um contexto maior.
No primeiro caso, entre 30 participantes, 14 demonstraram aversão à perda, 9 procuravam ganhos, e 7 tiveram um comportamento neutro. A condutividade da pele era maior no caso das perdas.
Mas, ao começarem a agir como investidores reais, colocando as perdas em um contexto de um portfólio de investimentos, a aversão à perda diminuiu em 26 dos 30 participantes.
A “aversão a perdas” não seria um mero fenômeno cultural, mas teria uma base neurobiológica. Um estudo em 2005 demonstrou que não só os macacos-prego entendiam o conceito de comércio como demonstravam a aversão.
“Nós demonstramos que a teoria-padrão dos preços faz um bom trabalho em descrever o comportamento de compra dos macacos-prego”, escreveram então os pesquisadores liderados por M. Keith Chen, da Universidade Yale. Mas os macacos foram ainda mais “humanos” quando tinham de enfrentar uma situação de aposta. Reagiram demonstrando aversão a perder. “Esses resultados sugerem que a aversão à perda se estende além do ser humano e pode ser inata”, dizem eles.
X-Phi

X-Phi, Experimental Philosophy, ou simplesmente Filosofia Experimental. É uma prima da Economia Comportamental e da Psicologia Evolutiva que, de acordo com a matéria abaixo, está ganhando importância nos meios acadêmicos.
Filosofia experimental está na moda, mas também atrai hostilidades
Prospect
David Edmonds e Nigel Warburton
Katja Wiech é uma alegre pesquisadora alemã fascinada pela dor. Ela descobriu muitas coisas -por exemplo, quando católicos devotos recebem choques elétricos enquanto olham para uma imagem da Virgem Maria, eles sentem menos dor do que os ateístas quando recebem o mesmo tratamento desagradável.Ela trabalha em um conjunto de salas no final de um labirinto de corredores no Hospital John Radcliffe, em Oxford. Em uma sala há um aparelho de imagem por ressonância magnética (IRM). As pessoas estudadas ficam deitadas na mesa do aparelho, com a cabeça dentro de seu tubo branco. Um computador aos pés delas fornece vários estímulos -imagens, perguntas e assim por diante- e é operado da sala vizinha, separada por um vidro. O barulho é alto. Há um botão de pânico caso as pessoas por acaso surtem.
Wiech é uma neurologista. Mas eis o detalhe estranho: ela está trabalhando com filósofos. A caricatura de um filósofo é a de um professor preocupado com coisas abstratas, sentado em uma poltrona confortável em uma faculdade de Oxbridge, especulando sobre a natureza da realidade usando apenas seu intelecto e alguns poucos livros. Isto tem alguma base na realidade. Mas com frequência um novo movimento derruba as ortodoxias das opiniões estabelecidas. Nós podemos estar entrando em uma dessas fases.
Uma nova escola dinâmica de pensamento está surgindo e ela deseja derrubar as paredes da filosofia recente e colocar a experimentação de volta ao seu centro. Ela tem um nome que daria prazer a um executivo de publicidade: x-phi. Ela conta com blogs e livros dedicados e conta com um número crescente de pesquisadores nas universidades de elite. Ela tem até mesmo um ícone: uma poltrona em chamas. A x-phi, a filosofia experimental, está na moda, se é que filosofia pode estar. Mas, cada vez mais, ela também está atraindo hostilidade.
Os filósofos sempre foram informados pela pesquisa científica, história e psicologia. De fato, a maioria dos gigantes da filosofia pré-século 20 combina estudos empíricos e conceituais. Mas para muitos filósofos de hoje, a ideia de uma filosofia experimental é irritante. A análise conceitual é a linha dominante da filosofia anglo-americana nos últimos 100 anos. Filosofia deste tipo não dá muita atenção para como as coisas são, mas sim para o que pensamos a respeito delas. Mas para um fã da x-phi, a pesquisa empírica não é um mero acessório para a filosofia; é filosofia.
Sob a bandeira da x-phi, é possível distinguir três tipos de atividade. A primeira usa as novas tecnologias de imagens do cérebro, na qual os filósofos se associam a neurocientistas como Wiech, para procurar por padrões de atividade neuronal quando as pessoas estudadas se veem diante de problemas filosóficos. No segundo tipo, os filósofos elaboram questionários para descobrir as intuições das pessoas e saem às ruas com uma prancheta. Na terceira, eles conduzem experimentos de campo, observando como as pessoas se comportam em situações em particular, frequentemente sem o conhecimento delas. Todas as três visam testar a suposição do filósofo de que sabe por introspecção o que as pessoas provavelmente dirão ou acreditarão. As afirmações filosóficas tradicionais -“nós temos fortes intuições de que…” ou “todos podemos concordar que…”- agora precisam ser testadas com evidências. A ideia de quem “nós” somos está sendo contestada, por exemplo, por pesquisas que sugerem amplas diferenças culturais a respeito das intuições. Pesquisas como estas levantam grandes dúvidas a respeito de nossa educação moral.
A maioria das pessoas leva décadas para chegar ao status de guru. Mas Joshua Knobe conseguiu isso em poucos anos após receber seu doutorado em filosofia por Princeton, em 2006. Ele tem uma empolgação contagiosa por sua pesquisa. Entre seus dias de estudante e de pós-graduação ele publicou alguns poucos artigos. Um foi a respeito da “intenção”: Quando as pessoas julgam que um comportamento foi intencional? Ele e um colaborador tentaram estabelecer isto por meio de alguns experimentos. Knobe diz que seu momento eureca ocorreu quando um filósofo, Alfred Mele, respondeu ao artigo. Apesar de discordar de Mele, o importante foi que Mele “tratou nosso trabalho como uma contribuição à filosofia… eu era muito idiota para perceber sozinho que as duas disciplinas (psicologia e filosofia) poderiam ser unidas desta forma”.
Seu trabalho a respeito de intenção logo chamou atenção. Uma colaboração com o colega filósofo Shaun Nichols demonstra a ambição da x-phi e quão amplamente sua metodologia pode ser aplicada. A questão do livre-arbítrio é perene na filosofia ocidental. O mundo é totalmente regido por leis causais e, se for assim, em que sentido os seres humanos podem ser considerados livres? Os pesquisadores, por meio de pesquisas, agora sabem o que as pessoas pensam.
Sem causar surpresa, talvez, a maioria das pessoas provou ser “não-determinista” -isto é, elas acham que os seres humanos têm liberdade de escolha. Mas a ciência parece revelar um mundo no qual cada evento é explicado em termos de causas anteriores e condições predominantes, sem nenhum espaço aparente para o livre arbítrio. Logo, nós somos responsáveis por nossas ações mesmo em um mundo determinista? Aqueles que acreditam que somos, e não veem contradição entre nossas ações serem determinadas casualmente e termos vontade própria, são conhecidas, no jargão, como “compatibilistas”.
Estranhamente, quanto mais detalhes -ou causas- os entrevistados são informados sobre um caso em particular, mais provavelmente as pessoas considerarão um agente responsável. Logo, ao lhes ser pedido para imaginar um Universo A, onde tudo está plenamente determinado, quase todos os pesquisados dizem que neste universo as pessoas não podem ser consideradas plenamente responsáveis. Mas ao lhes ser apresentado o mesmo universo, no qual um homem chamado Bill, que é apaixonado por sua secretária e, para ficar com ela, decide matar sua esposa e filhos (os experimentos de pensamento filosófico tendem a envolver muita morte), quase três entre quatro entrevistados insistiram que Bill era moralmente responsável. Acredita-se que o que estamos testemunhando aqui seja uma resposta emocional ao cenário.
Knobe e Nichols sugerem que o julgamento das pessoas nestes casos resulta de um “erro de desempenho”. Nossa resposta racional ao determinismo e livre-arbítrio é distorcida; nossa resposta emocional nos desencaminha. Se for verdade, então eles acreditam que o compatibilismo perde parte de sua força.
O uso de aparelhos para esclarecer mistérios filosóficos pode parecer um avanço e grandes alegações podem ser feitas com base em observações neurocientíficas. Mas Raymond Tallis, um filósofo e cientista médico que usou aparelhos de ressonância magnética por anos no estudo de derrames e epilepsia, não tem tanta certeza. Ele acha que a precisão e relevância das imagens do cérebro são superestimadas. A tecnologia IRM é excelente para investigar danos físicos no cérebro, explica Tallis, mas quando se trata de assuntos mais complexos, como a localização de processos específicos de pensamento, ela é rudimentar demais. Os dados desses exames, por exemplo, refletem a atividade média. Quando um setor do cérebro é iluminado, isto se deve a estar operando com uma carga maior do que a habitual em comparação a outras áreas. Mudanças que ocorrem por todo o cérebro não são captadas. E mesmo imagens neurais sofisticadas não podem distinguir entre dor física e rejeição social -elas “acendem” as mesmas áreas.
Mas ainda há um problema mais fundamental, diz Tallis. O tubo magnético não pode ser reproduzido no mundo real -de forma que as respostas dadas dentro dele possuem valor limitado na previsão de decisões que seriam tomadas no mundo exterior. Os cenários hipotéticos apresentados pelos voluntários são inteligentes mas implausíveis. Mesmo diante de uma suspensão da descrença, assuntos não são tratados com o mesmo pânico, indecisão, medo e angústia que os dilemas morais genuínos produzem. As decisões reais dependem da situação em particular; escolhas éticas não são como bifurcações, onde há apenas duas escolhas.
Mas apesar das críticas, as pranchetas e aparelhos de ressonância magnética estão se multiplicando, às vezes com efeitos surpreendentes sobre debates antigos. Nas últimas décadas houve um interesse renovado pela ética aristotélica e pela noção de que a ética é uma questão de cultivo da virtude. Muitos trabalhos recentes em psicologia moral destacam as formas como as situações e influências inconscientes afetam o que fazemos. Estes parecem previsores mais confiáveis de nossas ações do que nosso caráter. Há um elo aqui com a economia comportamental, que destaca nossos impulsos frequentemente ocultos e irracionais.
A filosofia moral parece um terreno particularmente fértil para combinação do conceitual e empírico. O filósofo de Princeton, Kwame Anthony Appiah, cita em seu livro mais recente, “Experiments in Ethics”, algumas experiências que demonstram o grau com que as situações afetam o modo como nos comportamos. Os teóricos da virtude aristotélica destacam a consistência entre as situações: uma pessoal compassiva provavelmente será compassiva quando se ver diante de tentações diferentes em circunstâncias diferentes. É realmente assim que as coisas são? A pesquisa empírica sugere que não. Pessoas que não sabiam que estavam participando de uma experiência, que encontraram uma moeda em uma cabine telefônica, se mostraram bem mais dispostas a ajudar alguém a pegar papéis que caíram no chão do que aquelas que não tiveram aquela pequena sorte.
As situações têm uma influência muito maior em como nos comportamos do que achamos. Talvez, então, em vez de nos preocuparmos tanto na formação do caráter do modo aristotélico, nós deveríamos estar conscientizando as pessoas de quão facilmente fatores aparentemente irrelevantes podem moldar o que somos.
Os experimentos em psicologia moral podem tornar a ética aristotélica menos plausível. Mas em outro sentido, o empreendimento da filosofia experimental é altamente aristotélica. Na famosa pintura de Rafael, “A Escola de Atenas”, Platão aponta para o reino abstrato: a verdadeira realidade, o mundo das formas que pode ser entendido apenas pelo pensamento puro. Aristóteles, entretanto, está voltado ao mundo diante dele. A x-phi parece estar aqui para ficar, e a filosofia contemporânea certamente a notará.
Um dólar ou cem cents?

Em termos estritamente financeiros, um dólar e cem cents são a mesma coisa, mas parece que não é bem assim que nos comportamos… O experimento abaixo, publicado hoje no G1, nada mais é do que uma aplicação da teoria da assimetria nos ganhos e perdas, que deu o Nobel de Economia de 2002 ao Kahnemann. …Ou o conselho de Maquiavel de fazer o mal todo de uma vez e o bem aos poucos.
Pessoas valorizam mais cem centavos do que um dólar, aponta estudo
Processo é parte de como o cérebro interpreta números.
Pesquisa foi feita por pesquisadores nos Estados Unidos.Eric Nagourney Do ‘New York Times’
Você provavelmente nunca trairia um amigo por cinco dólares. Mas por 500 centavos? Agora, sim!
É claro, os valores são os mesmos, mas pesquisadores descobriram que as pessoas são muitas vezes atraídas a tomar decisões por números que parecem maiores do que realmente são.
Em artigo publicado na edição de janeiro da publicação “Psychological Science”, Ellen E. Furlong e John E. Opfer, da Universidade Estadual de Ohio, sugeriram que a falha no pensamento pode levar pessoas a se aventurar em atividades tão distintas como barganhar e apostar.
Os pesquisadores solicitaram a voluntários que participassem de um teste comportamental conhecido como o dilema do prisioneiro, no qual dois parceiros recebem diversas recompensas por trabalhar juntos ou contra.
A ideia é que, em longo prazo, os participantes ganhem o máximo de dinheiro através de cooperação. Mas, em qualquer rodada arbitrária do jogo, eles ganham mais se decidirem se voltar contra seu parceiro enquanto ele se mantém leal. A recompensa é mais baixa se os dois parceiros traem.
Quando a recompensa pela cooperação foi aumentada de 3 para 300 centavos, descobriram os pesquisadores, o nível de cooperação aumentou. Mas quando a recompensa foi de 3 centavos para 3 dólares, o nível continuou igual.
Enquanto o teste mediu como números mais altos aumentavam a cooperação, a lição também provavelmente se aplica a estímulos para que as pessoas traiam, disse Opfer.
As descobertas estão em consonância com estudos sobre como o cérebro lida com cálculos envolvendo quantidades. Estudos descobriram que as pessoas tendem a superestimar diferenças entre pequenas quantidades e subestimar diferenças entre as grandes.
Economia comportamental
Acabei de receber o convite abaixo reproduzido. Não conheço o autor, mas o tema é interessantíssimo. Vou no lançamento e depois conto para vocês mais detalhes. Se alguém quiser me encontrar lá, sinta-se convidado.
A União Faz a Força?
O artigo abaixo, publicado originalmente no administradores.com, foi escrito para o projeto da Diretoria de Redes colaborativas do Banco ABN-Amro/Real (atual Santander). Voltaremos ao assunto em breve.
A UNIÃO FAZ A FORÇA OU É A FORÇA QUE FAZ A UNIÃO?Como ocorre o sucesso evolutivo das empresas por meio de estruturas associativasSe existem muitas maneiras de estar vivo, existem muito mais possibilidades de morrer. Essa é a cruel lógica da evolução: as chances de uma nova espécie prosperar são infinitamente menores das dela ser extinta, tanto é que 99% das espécies que surgiram na Terra já sucumbiram. Entretanto, a luta pela sobrevivência tem um efeito positivo: aqueles que sobrevivem são absurdamente adaptados à vida; todas as espécies que restaram são exemplos de experiências de sucesso evolutivo. Todos os ancestrais dos cães, gafanhotos ou andorinhas atuais são indivíduos que, no mínimo, conseguiram sobreviver até a idade reprodutiva. Nenhum ancestral nosso morreu jovem, ou foi fracassado sexualmente. Nós – e todas as espécies modernas – somo herdeiros de linhagens de sucesso. Essa é a lógica do darwinismo: os mais adaptados ao ambiente prosseguem no jogo; a maioria cai fora antes mesmo de conseguir jogar suas fichas no pano verde.A grande questão é: quais são as regras do jogo? Como a evolução acontece? A evolução morfológica é razoavelmente simples de entender. Os ancestrais dos animais modernos deixaram pistas claras nos registros fósseis que, confrontados com os indícios sobre as transformações geológicas e climáticas que ocorreram no planeta, indicam que as adaptações foram sensatas para a sobrevivência. Todavia, a coisa se complica um pouco quando se pretende entender como o comportamento evoluiu. Explicar porque descemos das árvores é fácil: mudanças no clima devastaram as florestas, transformando-as em campos abertos – ou seja: não fomos nós que descemos das árvores, foram as árvores que desapareceram debaixo de nossos pés. Resquícios dessa transformação na paisagem são inequívocos, e eles se casam perfeitamente com os esqueletos de primatas que nos antecederam.
Mas entender como o nosso comportamento se modificou até o ponto em que nos tornamos Homo economicus eficientes – ou melhor: empreendedores – é bem mais complicado. Comportamentos, ao contrário de ossos, não fossilizam, e as pistas são bem mais sutis que um crânio de Australopithecus afarensis. As chaves desse entendimento são duas: Economia e Ecologia. Não é por acaso que essas duas palavras comecem por um mesmo prefixo: “eco-”, em grego “oikos”, que significa a casa, a moradia, o lar. Como o sufixo “-nomia” (em grego, “nomos”) significa administração, organização, a “Economia” é sobre como está organizada uma família, ou seja: como os integrantes de um lugar se relacionam em relação aos recursos presentes naquele lugar. Já o sufixo para “Ecologia”, “logia” (em grego, “logos”), é o mesmo onipresente no final das palavras psicologia e arqueologia, e significa “estudo”; ou, nesse contexto, o “estudo da casa”. De acordo com a definição precisa, Ecologia é “o estudo das interações dos seres vivos entre si e com o meio ambiente”.
No fundo, no fundo, Economia e Ecologia são a mesma coisa: elas tratam de como indivíduos jogam o jogo dos recursos escassos, basicamente alimento e sexo. Todo o resto gira em volta disso, mesmo que de maneira indireta. Se a Ecologia se preocupa com os efeitos que os predadores da Amazônia têm sobre a vegetação, uma vez que eles regulam a população dos herbívoros que as come; a Economia está interessada em entender o efeito do aumento de impostos sobre a saúde ou a fome dos brasileiros, uma vez que estas são correlacionadas à renda da população. Mas, na essência, os mecanismos são os mesmos, a lógica é a mesma. O panda está na corda bamba da extinção porque ele não é eficiente economicamente. Ele ocupa um mercado (nicho) restrito, o que significa concentração de riscos. Ele tem somente um fornecedor de alimento, os bambus: se um bambuzal for devastado, adeus pandas. Como o bambu é um produto excessivamente “light”, mesmo comendo o dia todo, os pandas mal conseguem a energia para manter funcionando os órgãos vitais. Isso sem contar com o fato de ser um bicho invocado para se reproduzir; em resumo: sem a ajuda do “BNDES conservacionista”, a Pandas S.A. vai à falência.
Da mesma forma, a “selva dos mundos dos negócios” não é uma mera analogia despretensiosa. “O sapo não pula por boniteza, mas por precisão”, e o rouxinol não canta para nosso deleite: o sapo pula para fugir dos inimigos, e o rouxinol canta para conseguir acasalar. Nossa vida de contas bancárias, notebooks e celulares tem o mesmo sentido da vida de um lobo-guará ou de um gavião: sobreviver e reproduzir. Considerações metafísicas à parte, o fato é que nossos pais tiveram sucesso nas duas coisas, e os pais deles também, assim como os pais dos pais deles, e assim por diante. Com o perdão da filosofia de botequim: o sentido da vida é dar sentido à vida, ou seja: jogar o jogo da evolução – e o jogo é econômico (em todos os sentidos).
A lógica evolutiva é muito semelhante à que se aplica na luta pela sobrevivência empresarial, particularmente num contexto hostil e competitivo como o cenário econômico brasileiro. Nossa batalha é dura, cruel, diária, tão complicada quanto a dos peixes ou dos morcegos – e, no fim das contas, nós buscamos os mesmos prêmios: sobreviver e passar os genes para a frente. E, para isso, precisamos agir. Mas, como? No caso dos humanos, a sobrevivência e a reprodução estão ligadas às habilidades e competências sociais, como as formigas. A diferença é que as formigas se comportam de maneira inequivocamente cooperativa, enquanto que nós cooperamos de maneira seletiva. Entretanto, ambos estão maximizando as mesmas variáveis: o velho binômio sobrevivência e reprodução. Mesmíssima coisa ocorre entre as empresas, abstrações humanas que nada mais são que indivíduos lutando para sobreviver e se reproduzir.
As formigas nunca trapaceiam com suas irmãs porque, para elas, a coletividade – o formigueiro – é muito mais negócio que as comunidades humanas são para nós. Sendo estéreis, a única chance dos genes de uma operária continuarem a existir será se o formigueiro e sua respectiva rainha sobreviverem. Uma formiga não pode pedir demissão de seu formigueiro e procurar emprego nos classificados. Mas nós podemos mudar de emprego, de turma, de parceiros de negócios – eventualmente, até de família. Mesmo que nós tendamos a cooperar mais com quem for mais próximo em termos de parentesco, a cooperação humana também ocorre com quem não é nosso parente sangüineo; nós cooperamos por formas diferentes, mas pelos mesmos motivos: aumentar a eficiência econômica.
Sendo animais ultrassociais, nossa eficiência reside na competência em extrair benefícios do meio ambiente formado, principalmente, por outros humanos. Ou seja: nosso principal fator de sucesso evolutivo são os relacionamentos econômicos. Nós temos uma principal decisão a tomar nas nossas vidas: cooperar ou não cooperar – decisão essa que é tomada de maneira racional e emocional simultaneamente. O principal mecanismo que orienta essa decisão é o da reciprocidade de benefícios ao longo do tempo. Nós, instintivamente, fazemos os cálculos de maior ganho econômico em termos de valor presente o tempo todo, e tomamos nossas decisões baseadas nas planilhas mentais que criamos sem perceber nos nossos cérebros. Da mesma maneira que achamos o gosto do chocolate, um alimento altamente energético, muito melhor que o do capim (sem valor energético algum para nós), nós não damos esmolas a mendigos bem vestidos e não gostamos de receber um calote financeiro. Nossas ações acontecem numa espécie de “piloto automático comportamental”, num mecanismo vulgarmente conhecido por “instinto”.
Ocorre que, além de cooperarmos de acordo com a proximidade parental, e mais do que meras relações de reciprocidade, nós também nos comportamos de uma maneira peculiar quando nos organizamos em grupos: tribos, etnias, times de futebol, paróquias, exércitos, sindicatos, Rotary Clubs, e por aí afora. Uma pessoa – seja um tongolês, um chileno ou um sueco – sempre vai gostar de quem coopera com ela, e dificilmente fará amizades com quem age de maneira diferente. Ou, pelo menos, vai tentar agir assim a maior parte do tempo, o que não significa que ela não possa ser traída vez ou outra. E, evidentemente, quanto maior a sua eficiência em formar relacionamentos mutuamente cooperativos, maior a chance de sobreviver e se reproduzir.
Isso não é muito diferente da organização cooperativas de muitos outros animais, mas os humanos cooperam de maneira peculiar quando em grupos: nestes casos, nós cooperamos sem esperar, necessariamente, a retribuição específica de todos os atos praticados que beneficiam terceiros. Da mesma forma, ocorre idêntico efeito em sentido contrário e, quando integramos um grupo, também recebemos benefícios que não precisamos retribuir. Se você se associa a um clube esportivo, por exemplo, você tenderá a cooperar com os outros associados das mais variadas formas, mesmo quando estes nem tenham como saber que estão sendo beneficiados por você. Isso acontece porque você utilizou a sua planilha mental automática e chegou à conclusão que os benefícios que você obtém por ser sócio do clube também são originários de atitudes benéficas praticadas por pessoas que você nem conhece.
Quando um sócio do clube se empenha em comprar uma bola de basquete nova (mesmo que com os recursos da coletividade), ele vai proporcionar um benefício para todos aqueles que jogam naquela quadra, indistintamente. Isso é um bom negócio para ele próprio, que joga todo final de semana naquele clube, mas também para vários outros e, por essa razão, todos os outros terão interesse que você continue desfrutando dos jogos que ocorrem ali. Isso faz com que a melhor decisão econômica para qualquer sócio do clube seja cooperar indistintamente, independente do benefício ser estendido a quem nem se conheça.
É devido a essa lógica econômica que temos uma forte tendência em sermos amigos dos amigos dos nossos amigos, um fenômeno psicossocial denominado “transitividade”. Comportando-nos dessa forma, nós aumentamos as chances de estabelecer novas conexões sociais, e o segredo do negócio é a densidade do grupo que compomos. Quanto maior a densidade dos relacionamentos em um agrupamento humano – ou seja: quanto mais os sócios de um clube se relacionarem entre si – maior a sua efetividade econômica. Isso é particularmente forte nos agrupamentos cujos benefícios estejam relacionados ao trânsito de informações complexas, como as associações empresariais. Além de favorecer a prática de benefícios de maneira indiscriminada pelo efeito cascata previamente comentado, nesses casos, o custo de transmissão de informações se reduz de maneira dramática.
Se um grupo de empresas enfoca o desenvolvimento de novas tecnologias, por exemplo, não só ocorre um óbvio ganho de escala na obtenção do conhecimento, como também existe um segundo efeito, agora na eficiência da transmissão dessa nova tecnologia. Como os membros de um grupo já estão conectados, as informações fluirão com muito mais facilidade, rapidez e economia. Esta é a lógica que está por trás da tendência que temos em nos associar a grupos de todos os tipos: agir assim é um ótimo negócio, e nossos antepassados evoluíram dessa forma.
Entretanto, existem riscos associados à excessiva densidade do grupo: pode ocorrer seu isolamento, impedindo a entrada de novas idéias. Quando todas as relações dos membros de um grupo se resumem àquelas ocorridas entre eles mesmos, há uma diminuição sensível na obtenção de informações únicas: novas idéias, tecnologias ou conhecimentos que não sejam dominados pelos membros daquele grupo. Talvez, pior do que isso, grupos muito coesos podem levar à perda de competitividade, principalmente quando aquela associação é artificialmente protegida – subsidiada, em outras palavras. Isso, a propósito, foi um fenômeno muito estudado no passado recente do nosso país, que experimentou uma complicada abertura econômica no final do século passado.
Em termos evolutivos (ou empresariais, dá no mesmo), a configuração ótima das estruturas associativas humanas é a seguinte: dentro da associação, uma alta densidade, com todos os membros conectados o máximo possível uns aos outros; e entre as associações, conexões mais esparsas, com algum trânsito de informações que mantenha o fluxo de novas idéias. Esta é a maneira que permite obter os maiores resultados na extração de benefícios do meio-ambiente, qualquer que seja o propósito do agrupamento em questão. Exemplos disso não faltam.
Na Ásia, temos a maior concentração humana do planeta. Muita gente significa muitas oportunidades de agrupamento e, de fato, existe uma profusão de grupos humanos naquele continente como em nenhum outro lugar, desde há muitos séculos. Ocorre que estes grupos humanos, fortemente densos, eram isolados do resto do mundo, por diversos motivos. A China maoísta, por exemplo, era um planeta à parte há até poucas décadas, e não havia trânsito de informações com o resto do mundo. Mas isso começou a mudar: primeiro foi o Japão, que conseguiu sair rapidamente da ruína do pós-guerra para se tornar mega-potência econômica; depois, os tigres asiáticos, como Taiwan e Coréia do Sul. E, a partir de meados da década de 1970, após a morte de Mao, o gigante chinês. O que construiu o sucesso desses países foi a conjugação de associações densamente estabelecidas (condição pré-existente) com novos laços associativos, menos densos, com o resto do mundo.
Na natureza, uma onça pintada do pantanal matogrossense não compete pelos mesmos recursos com um guepardo das savanas africanas. A onça talvez se preocupe com os lobos-guará, mas os guepardos não representam nenhuma ameaça. Estes, por sua vez, competem com hienas e leões, mas sua sobrevivência não tem nada a ver com os ursos canadenses; cada um ocupa um nicho ecológico completamente diferente. O mesmo acontecia com a competição humana há até alguns segundos na escala evolutiva: os Incas, Maias e Astecas não tinham que se preocupar com os egípcios, e esses nem sonhavam com a existência dos aborígenes australianos. Hoje, tudo mudou, o mundo encolheu, e todos disputamos os mesmos recursos – competimos pelos mesmos mercados. Estamos numa mesma selva que os chineses e coreanos, e a competição é de vida ou morte. Como faremos para sobreviver e nos reproduzir nesse novo contexto? A resposta: sendo mais eficientes em termos evolutivos.
Nós somos um país com um passado colonial e escravagista recente. Tanto uma como outra característica são contrárias à formação de estruturas associativas, mas não vai adiantar nada lamentar nossa história. Se os asiáticos venceram as barreiras culturais milenares, e estabeleceram conexões em nível global, por que nós não podemos modificar nossas práticas sociais? O Brasil tem uma infinidade de empreendedores criativos, trabalhadores – enfim, aptos a vencer a competição. Nosso povo é aberto a estabelecer conexões com outros povos, outras culturas, mesmo porque nós somos essencialmente estrangeiros aqui. Só que nos falta habilidade para construir mecanismos associativos entre nossas empresas, nós somos carentes de grupos com conexões fortes e sólidas. E, para piorar, nós temos pouco tempo para mudar isso.
Foi somente no século XX – principalmente após Getúlio Vargas – que nós começamos a montar estruturas associativas formais. Existem hoje uma infinidade de sindicatos, associações comerciais, arranjos produtivos locais (APLs) espalhados pelo país; grande parte, infelizmente, com pouca efetividade. Os empresários ainda são reticentes quanto à cooperação associativa, ou seja: em priorizar seus negócios por meio das estruturas de grupos existentes. Isso precisa mudar urgentemente, sob pena de sermos extintos do ecossistema global e nos tornarmos uma imensa plantação. Do mesmo jeito que o panda, nós corremos o risco de sermos engolidos pelos competidores se não tomarmos medidas conservacionistas urgentes quanto à espécie do Homo economicus brasiliensis.
A lógica evolutiva para que isso aconteça já foi decifrada: nós precisamos nos organizar de maneira mais eficiente, priorizando os relacionamentos econômicos dentro das associações, e construindo pontes entre estas, além de conexões destas com o mundo exterior. Não há outra alternativa, os recursos são (e sempre serão) escassos, e os competidores sempre irão trabalhar pelo seu próprio sucesso, não podemos esperar nada diferente disso. Mas nós temos a vantagem de, hoje, saber como os mecanismos evolutivos acontecem, e por que determinados grupos têm mais sucesso que outros. Agora é mãos à obra, utilizando a nossa força para nos unirmos, pois é dessa união que virá a nossa força.
Amado mestre…
O artigo abaixo foi publicado originalmente em 2003 na revista Você S/A, por coincidência o ano da morte do ator Rogério Cardoso, o “Rolando Lero” da Escolinha do Professor Raimundo. A enrolação, por mais cômica que possa parecer, é um dos problemas mais complicados em Recursos Humanos. O chefe que conseguir diminuir a enrolação de seus subordinados em 1% pode ser considerado um bom gestor; e se diminuir mais de 10%, é um gênio. Um dos estudos de caso mais marcantes que eu me lembro da faculdade tem a ver com esse tema, e vou resumi-lo abaixo (os caso é real, embora não tenha referências para apresentar).
Uma determinada empresa fabricante de papel possuía uma grande área de reflorestamento, cujas árvores precisavam ter o espaço ao redor do tronco capinado regularmente, para evitar ervas daninhas e acelerar o processo de crescimento. Os trabalhadores que exerciam a função eram pagos por dia de trabalho, e o gerente responsável logo percebeu que era muito difícil fazer com que esses bóias-frias trabalhassem mais do que 6 horas efetivas: havia muita enrolação para começar o dia, o almoço se estendia além do horário, e se a supervisão virasse as costas, os trabalhadores logo puxavam um cigarro de palha. Foi aí que o jovem gerente da operação, recém graduado em Administração pela USP, percebeu que os salários eram muito baixos e que conceder um aumento real significativo não iria representar um grande acréscimo nos custos, mas isso poderia trazer um grande aumento na produtividade, que é o que lhe interessava, afinal de contas, esse era um item importante na sua avaliação de desempenho.
Esse gerente sabia que dar o aumento pura e simplesmente não melhoraria a produtividade, então ele consultou os manuais de Recursos Humanos e concluiu que se ele passasse a pagar por produtividade, provavelmente conseguiria melhorar seus índices – afinal de contas, aqueles eram trabalhadores muito humildes, que teriam um substancial aumento na qualidade de vida se obtivessem mais renda. Todas as contas feitas, o gerente arbitrou um determinado valor por árvore capinada que possibilitaria aos trabalhadores dobrar o salário se eles executassem o trabalho com seriedade por 8 horas diárias. Com isso, ele imaginou que a jornada de trabalho fosse, no mínimo, respeitada, mas o gerente cogitava inclusive que os trabalhadores capinassem umas 10 horas por dia ou mais.
Sabem qual foi o resultado? A produtividade diminuiu, e os trabalhadores passaram a trabalhar somente 4 horas por dia, passando o resto do dia sentados à sombra, conversando, jogando truco, fumando o cigarrinho de palha, alguns até bebendo. Isso deixou o gerente estupefato, pois ele pensava que ocorreria exatamente o oposto – “se fosse eu”, disse ele, “trabalharia 16 horas por dia, para ver se deixava de ser bóia-fria o mais rápido possível”. Quando foi investigar por que isso estava acontecendo, ele logo encontrou a resposta. Os trabalhadores entendiam que ganhar “muito pouco” ou “o dobro de muito pouco” era a mesma coisa: eles permaneceriam miseráveis; mas se tivessem 4 horas por dia de lazer, aí sim a qualidade de vida deles melhoraria.
Esse é um paradoxo que só a Economia Comportamental explica; o paradigma do “agente econômico racional”, que por tantos anos se ensinou nas universidades, não dá a menor pista para entender o comportamento humano. Feito esse alerta preliminar, vamos ao artigo, então:
O antídoto da enrolação
Neste primeiro artigo da coluna “Prática na Teoria” baseado na contribuição dos leitores, vamos tratar de um assunto tão comum quanto pouco discutido nos meios corporativos: a enrolação. O Prof. Dr. Emilton Lima Júnior escreveu de Liège, na Bélgica, onde está concluindo seu doutorado sobre estresse profissional, para relatar seu ponto de vista sobre o assunto. Seu artigo publicado na Revista Brasileira de Ensino Médico aborda de forma brilhante a famosa frase “eles fingem que nos pagam – a gente finge que trabalha” sob a ótica da Teoria dos Jogos e das Informações Assimétricas. Apesar do artigo ter sido concebido originalmente para tratar a questão do ensino de medicina no país, este também é um assunto aplicável à maioria das empresas e órgãos públicos dentro ou fora do Brasil.
A enrolação no trabalho não é uma invenção brasileira. Prova disto é o fato de Bill Gates ter incluído jogos e passatempos como a paciência logo na primeira versão do Microsoft Windows. A enrolação nada mais é do que uma resposta desertora de um funcionário que entende que seu patrão não coopera o quanto ele acha que deveria. Como o funcionário sabe que existe um certo grau de assimetria de informações entre ele e a empresa, ele se sente seguro para enrolar. Além disso, ele sabe que a assimetria de informações também o protegerá caso ele seja despedido do atual emprego, pois dificilmente seu novo empregador irá saber que ele deixou a empresa anterior por ser um enrolador. Na verdade, o funcionário enrolador faz com que toda a produtividade de seu departamento ou empresa caia, prejudicando os funcionários mais trabalhadores, o que faz com que haja um equilíbrio progressivo em níveis cada vez mais altos de enrolação.
A estratégia mais básica em Teoria dos Jogos é a “tit-for-tat”, algo como “olho-por-olho”: eu coopero com quem coopera e deserto com quem deserta. Se eu achar que meu empregador não está agindo cooperativamente comigo, eu tendo a desertar. Por outro lado, se meu patrão achar que eu não estou cooperando o quanto deveria, ele é que tende a desertar. Como os dois acham que o outro está desertando ou irá desertar (uma incerteza devido à assimetria de informações), eles antecipam suas próprias deserções, caminhando rapidamente para um equilíbrio de Nash clássico: ambos desertam, pois esta é a melhor estratégia possível independentemente da estratégia escolhida pela outra parte. A grande questão é: quem nasceu primeiro? O ovo do funcionário enrolador ou a galinha do patrão ganancioso?
Isto é, no fundo, o famoso “Dilema do Biscoito”, criado há cerca de uma década pela publicidade nacional para vender uma determinada marca de biscoitos que não se sabia se era fresquinha porque vendia mais ou se vendia mais porque era fresquinha. O que se sabe somente é que todos os funcionários enrolam em maior ou menor grau; toda empresa oferece menos vantagens para seus empregados do que poderia ou deveria (uma outra visão da mais-valia marxista); e ambos fingem que não estão vendo a traição do outro para manter o equilíbrio entre eles. Perceba que este equilíbrio possui um grande viés inercial: qualquer uma das partes que tentar sair do equilíbrio se expõe a riscos. Se o empregado decidir parar de enrolar, ele corre o risco do patrão não só não retribuir, como atribuir um novo patamar de produtividade com a mesma cesta de remuneração oferecida anteriormente. A empresa que tomar a iniciativa de adotar uma postura mais cooperativa, por outro lado, também estará exposta à falta de reciprocidade por parte dos seus empregados e dificilmente conseguirá voltar aos patamares de remuneração anteriores – inclusive por imposição legal.
Antes que o leitor ache que este artigo é – ele mesmo – uma enrolação, vejamos o que o Prêmio Nobel de Economia de 2001, Joseph Stiglitz, pensa sobre este assunto. Segundo Stiglitz, a forma de romper este equilíbrio de Nash do tipo “eles fingem que nos pagam – a gente finge que trabalha” seria através de um nível de remuneração acima da média. A despeito do brilho intelectual de Stiglitz, esta teoria foi adotada empiricamente já em 1914 com estrondoso sucesso por um cidadão chamado Henry Ford. Naquele ano, a Ford Motors passou a pagar 5 dólares por dia para seus funcionários, contra uma média de 2 ou 3 dólares dos concorrentes e dele mesmo em anos anteriores. A produtividade na Ford cresceu vertiginosamente (51%, segundo relatórios da época) e o lucro da companhia dobrou entre 1913 e 1916.
O problema é que neste momento ocorre uma outra corrida de desertores, desta vez empresa contra empresa. Quando a concorrência percebeu que a Ford lucrava mais, passou a pagar mais de 5 dólares. No momento seguinte, a Ford passou a pagar mais que a concorrência e assim foi até as empresas atingirem o limite de lucro zero em suas empresas. A estratégia simplista do Mr. Henry naufragava pelo mesmo motivo que teve sucesso: a Teoria dos Jogos (na verdade, uma variante do “Leilão de Dólar”). Neste momento, aparece em cena um novo conceito em remuneração, o “Salário de Eficiência”: uma remuneração paga aos funcionários para que não enrolem.
O “Salário de Eficiência” foi publicado originalmente na Harvard Business Review em maio-junho de 1978 por Jacob Gonik. Apesar de ter quase um quarto de século, este conceito ainda hoje é visto como inovador. Na Você S/A deste mês, os repórteres Rodrigo Vieira da Cunha e Alessandra Fontana nos mostram como a remuneração variável (nomenclatura mais adotada no país para o “Salário de Eficiência”) é um assunto cada vez mais comum no Brasil e como isto tem a ver com você (leia a matéria “Você valendo mais” http://vocesa.abril.com.br/edi51/1318_1.shl).
A remuneração variável é a fórmula mais usada na composição da vacina anti-enrolação adotada hoje em todo o mundo.



leave a comment